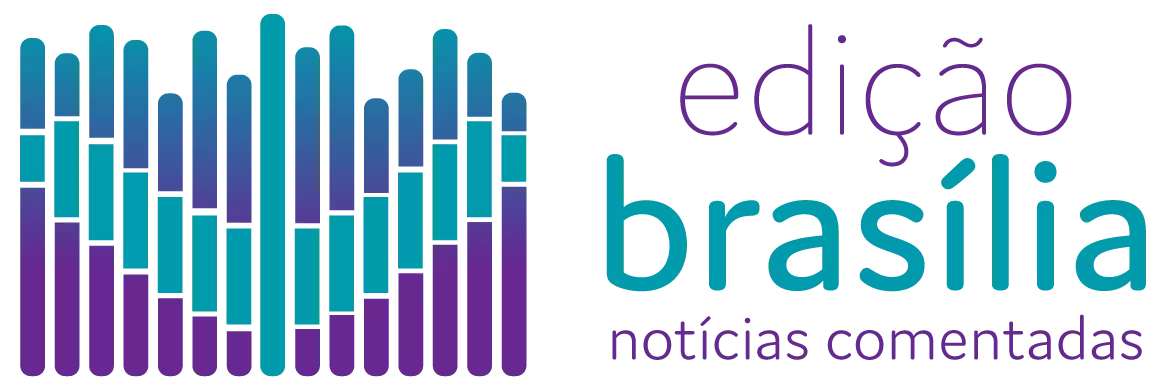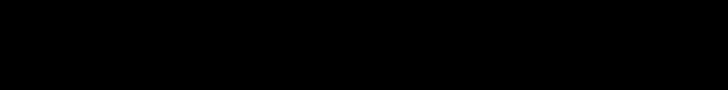Você conhece o sentimento. Ali você está, emocionalmente investido num filme ou série, já conquistado pela boa direção, personagens cativantes e visuais marcantes. Então, começa. Um needle drop. Uma música perfeita para o momento surge. Às vezes ela é uma de suas preferidas, hits frequentemente presentes em suas playlists ou canções com um significado pessoal importante. Mas também pode ser algo desconhecido. Um som prestes a entrar neste cenário de paixão. Um novo relacionamento.
“Needle drop” é o termo em inglês usado para quando a agulha de um tocador de discos entra em contato com o objeto onde a música está gravada. Hoje, a expressão é mais conhecida como a inclusão de uma música numa cena. Como se, enquanto aquele momento se desenrolasse, a agulha caísse no disco.
A sequência cinematográfica é engrandecida, sublinhada e arredondada pela trilha sonora, que por sua vez se torna quase inseparável da cena e passa a se tornar associada à uma nova coleção de memórias e sentimentos. Arte encontra com arte numa explosão de gosto. Uma síntese perfeita.
O exemplo mais marcante que tive nos últimos anos foi quando O Urso decidiu encerrar seu emocionante último episódio com minha música favorita de Radiohead (“Let Down”). Talvez isso seja um eufemismo. Talvez esta seja minha música favorita, ponto final. Mas qualquer entusiasta musical sabe a vaidade dessa declaração. Sempre há outra faixa, outro disco, outro artista, outra temporada, outro humor. Nossa música favorita está sempre em mudança.
Pra mim, “Let Down” chega perto de uma resposta ideal. Me force a responder, e ela será a escolhida. Assim como falar que meu filme favorito é Amores Expressos, minha comida favorita é hambúrguer e meu autor favorito é Stephen King, essas palavras vêm acompanhadas de um asterisco garantindo meu direito de mudança. Amanhã, posso escolher Fogo Contra Fogo, pizza e C.S. Lewis. Mas agora, é “Let Down.” Em 2022, perdi a conta de quantas vezes voltei para o começo da quinta faixa de “OK Computer,” uma sinfonia de melancolia eufórica e euforia melancólica gravada às 3h da manhã na St Catherine’s Court, combinando mais umas vez os talentos únicos de Ed O’Brien, Colin Greenwood, Jonny Greenwood, Thom Yorke, Philip Selway com a produção precisa de Nigel Godrich.
“Let Down” mistura guitarras com piano elétrico e enfaixa tudo nos vocais de Yorke, por si só dignos de serem considerados um instrumento. Falando à Rolling Stone, Yorke disse que a inspiração para “Let Down” surgiu de parar e observar. De prestar atenção nas coisas passageiras, sejam elas ônibus ou pensamentos, e reconhecer a dicotomia delas, seus contrastes e como eles se completam. A sensação de se segurar enquanto o chão some.
Em sua depressão, Radiohead pinta a figura de um inseto amassado, mas ainda capaz de raciocinar. Uma lagarta testemunhando a própria destruição. “Crushed like a bug in the ground / Let down and hanging around.” Eles continuam, e começam a transição: “Shell smashed, juices flowing / Wings twitch, legs are going.” O vislumbre de esperança no tremer de asas e pernas é confrontado com “Don’t get sentimental / It always ends up drivel.” Pra que ter esperanças? Eles respondem: “One day I am gonna grow wings / A chemical reaction.” O voo virá, e ele será: “Hysterical and useless / Hysterical and…” Antes que Yorke cante novamente a inutilidade dessa fuga, a letra repete e forma um ciclo eterno e honesto sobre os altos e baixos da vida e a troca constante entre os dois.
Jamais ousaria apontar questionar essa ambiguidade, mas os tons apoteóticos na voz de Yorke e a guitarra de Jonny Greenwood, pontuada pelo baixo de seu irmão Colin dividindo o palco com a bateria de Selway, parecem trair a intenção da banda. Eles parecem cantar e tocar em tom de alívio. Mesmo as frases mais tristes, o convite à decepção, contém notas de paz. Interpretar músicas, contudo, é uma tarefa tão vã quanto escolher a sua favorita, e há beleza no mistério. Definir entre o niilismo e o animador em “Let Down” é menos importante do que reconhecer a harmonia entre ambos sons, e o sucesso da música (de todo o OK Computer, eu diria), é encontrado na habilidade quase sobrenatural de Radiohead de produzir disso algo cuja única descrição possível é espiritual. Gosto de descrever “Let Down”, “No Surprises” e “Exit Music,” entre outras, como “músicas pra se ouvir de olho fechado.”
Detalhar os acontecimentos eternizados pelo uso de “Let Down” seria entregar alguns dos melhores spoilers de O Urso (se quiser ver, linkei a cena acima), mas não vai estragar a experiência dizer que há uma boa quantidade de catarse presente quando as primeiras notas surgem. Como expliquei em meu texto sobre a série, O Urso — a história do melhor chef do mundo (um elétrico Jeremy Allen White como Carmy) voltando para casa e tentando salvar o restaurante bagunçado de seu falecido irmão — usa a metáfora de restaurantes, receitas e cozinhas para criar uma mistura narrativa. Com emoções no lugar de ingredientes, somos presenteados com um prato final repleto de sabores e texturas trabalhando em conjunto para ativar nosso paladar.
Seria, então, um erro finalizar a primeira temporada com laços perfeitamente amarrados. Isso não é O Urso, isso não é a vida. Isso também não é “Let Down.” Depois da alegria, vem sempre a tristeza. Noites escuras sempre antecedem o belo amanhecer. As jornadas de Carmy e seus colegas de cozinha não acabaram e novos obstáculos certamente os aguardam, mas penso que o criador e supervisor musical Christopher Storer compartilha de minha visão sobre a intenção final da banda. Ainda que de maneira sutil e pouco definitiva, a melodia pende para o transcendente. Pelo menos na sua aplicação em O Urso, num momento beirando o milagroso, “Let Down” soa vitoriosa. Sem nunca fechar a porta para derrotas futuras, O Urso se baseia tanto nas letras quanto no clima e na vibe de “Let Down” para concluir sua perfeita temporada estreante ousando sorrir.
Por que? Por que “Let Down” e O Urso combinam tanto? Por que nunca mais poderemos separar “Spill the Wine” de Boogie Nights? Ou “Crash Into Me” de Lady Bird? Por que um dos pioneiros na combinação de música e imagens, Martin Scorsese, escolheu “My Way”, a versão de Sid Vicious, para Os Bons Companheiros? O próprio diretor explica: “Eu meio que vejo tudo com música, especialmente a contraposição da música que você está escutando com as imagens que vê pela janela. É assim que as músicas devem funcionar num filme.” Christopher Brooks, editor musical de Bons Companheiros, diz que quando trabalhava com Scorsese e a lendária montadora Thelma Schoonmaker, o cuidado era perceptível. “Mary uma vez me disse que ele sabia quais seriam todas as músicas três anos antes de filmar,” ele conta.
Scorsese, essencialmente, quer que as músicas comuniquem algo que, sem elas, a cena não faria. Elas criam tempero, cor e atmosfera. Elas têm o poder de tirar qualquer deleite de um riso e amaciar as mais solitárias separações, assim como podem acentuar e elevar qualquer ideia. Observe, por exemplo, como o saudosismo e carinho de Quentin Tarantino pela Los Angeles da década de 1960, fadada a acabar depois da morte de Sharon Tate nunca dramatizada em Era Uma Vez em… Hollywood, se torna palpável com o uso de “Out of Time,” dos Rolling Stones. O tempo da cidade, e do filme, está se esgotando.
Veja como George Roy Hill captura a sinceridade quase vergonhosa da alegria de um dos últimos momentos de paz em Butch Cassidy & Sundance com “Raindrops Keep Fallin’ on My Head” de B.J. Thomas.
Mas preciso admitir que meu uso favorito dessa música veio muitos anos depois graças a Sam Raimi.
Às vezes, a música nos diz tudo sobre uma personagem. Sua personalidade, seus mecanismos de defesa, seus sonhos. De quebra, ela se torna indispensável para o filme. O melhor exemplo é como Wong Kar-Wai faz de “California Dreamin” o hino de Faye Wong em Amores Expressos.
A conexão também pode existir num nível até mais básico, mas ainda se provar suficiente. Se feito com cuidado, algumas palavras na letra bastarão para criar a conexão desejada. Muito antes de um objeto não identificado aparecer em Bacurau, Kleber Mendonça Filho escolhe Gal Costa para cantar sobre um disco voador.
Eu poderia citar mais e mais exemplos. Os arranjos divinos de “How Great” de Chance the Rapper representando o final redentivo de As Ondas, de Trey Edward Shults, voltar para Wong Kar-Wai e Amores Expressos e falar da montagem ao som de “Dreams” cantado pela própria Faye Wong, ou celebrar Paul Thomas Anderson escolhendo “Let Me Roll It” de Paul McCartney para expressar o anseio romântico e erótico de Gary e Alana em Licorice Pizza.
É um comportamento tentador. A lista é infinita. Tentar identificar uma qualidade única entre todos esse needle drops termina, portanto, se provando uma tarefa tão divertida quanto é impossível. No fim, é uma questão de gosto. Mas seja pela letra, notas, arranjos ou instrumentos, elas parecem servir o propósito de comunicar algo intangível, de trazer à tona uma sensação, acordar nossa mente da maneira especial que apenas músicas são capazes de fazer. É uma experiência abstrata e inconfundível. Sabemos quando acontece, mesmo quando não sabemos resumi-la em uma ou duas frases.
A abrangência do sucesso dessa técnica, entretanto, é rivalizada pelo dano potencial de seu mal uso. É difícil encontrar uma cena mal executada, normalmente presente em filmes medianos e até medíocres, resgatada inteiramente pelo uso de um hit. Tipicamente, o efeito é o contrário. A canção piora o momento, reforçando uma miríade de aspectos defeituosos na direção ou atuação, e pode até se tornar irritante. Seja pela interpretação forçada de seus significados, pela insistência de um estúdio interessado apenas em ter grandes nomes na trilha sonora ou por uma simples incompatibilidade de imagem e áudio, o efeito nem sempre é o esperado.
Há, claro, opções indefensáveis. Aquaman usa não a versão clássica de “Africa”, mas sim “Ocean to Ocean”, feita por Pitbull para o filme usando a letra da obra de Toto no refrão para comunicar a suposta chegada da água ao deserto. O som de pop genérico é asfixiante.
Mais interessante, porém, é discutir o uso de ótimas músicas como muletas. Tentativas vãs de empoderar personagens e narrativas cujo resultado termina sendo o oposto da intenção original.
O filme ou série em questão pode, digamos, se achar à altura da música escolhida. Apesar da estética interessante, o live-action de Cruellada Disney jamais vai além de reconhecer a existência da cena punk no Reino Unido nos anos 1970, acenando para seus figurinos e maquiagens, mas nunca abraçando sua atitude. Como resultado, seu uso de clássicos de Queen e Rolling Stones nunca soa como algo merecido. “Sympathy for the Devil,” certamente uma das mais usadas (e mal usadas) criações do grupo de Mick Jagger, não é tão afiada aqui. Cativante, a versão da vilã de Emma Stone está longe do demônio, e o impacto musical é diminuído pelo quão óbvias e mainstreams as escolhas de Craig Gillespie foram até então. O filme acredita ser rock, mas sua trilha diz “eu já ouvi rock uma vez.”
A eficácia de needle drops não está intrinsecamente atrelada à sutileza, às vezes apostar ainda mais no exagero é uma boa, mas ainda é preciso usar sensibilidade. Entender o momento, entender o texto (do filme e do cantor), entender o timing. Os piores usos de músicas em filmes e séries tipicamente acontecem quando um, ou até todos esses fatores erram o alvo, e terminamos com algo cuja presença parece forçada. Uma distração. Um incômodo. Se os acertos são instantaneamente identificáveis e não precisam seguir uma via de regra específica, podendo acontecer graças ao contraste ou à autenticidade, os erros são iguais.
Do insuportável, como Pitbull em Aquaman, ao imerecido, como Rolling Stones em Cruella, esses tropeços parecem ser mais comuns em filmes de estúdio e blockbusters, quando nuance é deixada de lado e aversão a riscos dita a escalação de atores, figurinos e a progressão da história. Em instâncias desprovidas de qualquer caráter identificável, esses produtos genéricos, mais fabricados do que filmados, praticamente garantem a incompatibilidade. Veja Capitã Marvel, por exemplo. A Marvel pode até recriar locadoras Blockbusters e vestir Brie Larson comblusas de Nine Inch Nails, mas nada no filme nos presenteia com a postura bagunçada, intensa, ansiosa e original presente na cultura dos anos 1990. Esses adjetivos podem ser aplicados a “Just a Girl” de No Doubt, mas não ao seu uso nessa luta.
A situação fica ainda mais difícil quando uma música já parece ter sido apropriada por outro filme. Para todo “Raindrops Keep Fallin’ on My Head” em Butch Cassidy e depois Homem-Aranha 2, há ainda mais situações onde evitar comparações se torna complicado. Desde que se tornou praticamente sinônimo de helicópteros no Vietnã, a excelente “Fortunate Son” de Creedence Clearwater Revival virou uma espécie de coringa para cineastas ao ponto de quase soar irônica (feito engrandecido por sua presença recorrente em American Dad e Forrest Gump) quando é usada em algo como Esquadrão Suicida. Quando ela entra nos créditos de Battleship, as inesquecíveis primeiras notas da guitarra de Tom Fogerty soam como uma tentativa desesperada de alinhar o filme a uma genealogia maior.
Reprodução por reprodução é uma das melhores maneiras de amenizar o espírito de músicas. Hoje em dia, “Walking on Sunshine”, “Bad to the Bone,” “Stayin’ Alive” e tantas outras já perderam muito do simbolismo outrora presente nos seus usos em clássicos do cinema e em hits cult obscuros. Por isso, quando algo consegue recontextualizar uma escolha inspirada, simultaneamente reconhecendo seu uso original e injetando novo ar, isso merece destaque.
Enquanto o Bud Fox de Martin Sheen escolhe e decora sua casa, Oliver Stone , diretor de Wall Street, nos deixa ouvir “This Must Be The Place” de Talking Heads, descrita pela banda como sua letra mais direta sobre amor. “Home is where I want to be / But I guess I’m already there / I come home, she lifted up her wings / I guess this must be the place.” A sacada de Stone vem não só ao colocar essas palavras como fundo da aquisição de uma casa (“esse deve ser o lugar”), mas também na ironia de ouvir David Byrne cantar “I love the passing of time / Never for money, always for love / Cover up and say goodnight, say goodnight” num filme sobre a obsessão monetária.
Décadas depois, os criadores da excelente e subestimada Industry, série da BBC e HBO, pegam toda essa carga irônica e a viram de cabeça pra baixo. Harper, vivida pela hiperativa Myha’la Herrold como uma das jovens embarcando na tentativa de criar uma carreira no mundo financeiro dentro do competitivo banco Pierpoint, só se sente viva quando está em perigo. Se não há milhões na linha, ela não está interessada. Seu prazer vem do sucesso improvável. A conquista inesperada. Sem amarras, ela ama o dinheiro e se define por ele. A quantia pode até não ser sua, mas se ela pode afirmar ser uma das autoras do montante para clientes bilionários, então ótimo.
Na segunda temporada, Harper desafia seu chefe e encontra um caminho mais lucrativo para Pierpoint. Ele pode custar sua relação profissional com o mentor Eric (Ken Leung), e até colocá-lo num limbo perpétuo dentro da empresa, mas a transação em questão praticamente garante uma volta olímpica. Quando ela acontece, os showrunners Konrad Kay e Micky Down reconhecem a herança de Wall Street (Industry existe porque o filme de Stone existiu primeiro), mas escondem a verdadeira paixão da personagem. Harper sorri pensando no que fez, e os Talking Heads surgem. Ali, movimentando dinheiro, derrotando a competição e vivendo no limite, a banda fala por Harper: “Home is where I want to be / But I guess I’m already there.”
https://www.youtube.com/embed/BNH-jf-LSvI É brilhante, e talvez resuma o conceito deste texto melhor do que suas centenas de palavras. Aqui, “This Must Be The Place” melhora o episódio, e vice-versa. Com essa cena (uma que garantiu o lugar dessa música nos meus fones de ouvido desde então), Talking Heads acentua, contrasta, ironiza e sublinha os temas, a personagem e o roteiro. O que mais é capaz disso? O que mais consegue ter qualquer um destes efeitos, ou mesmo todos eles? O que, se não músicas?
Tudo isso pode ser subjetivo. As mesmas obras-primas que, para mim, estão acima do cacife de Cruella foram elogiadas como ótimas inclusões por mais de um conhecido quando o filme saiu. Para muitos, basta ouvir sua cantora favorita, ser lembrado dos sons da juventude ou simplesmente gostar daquela música. Podemos gastar milhares de caracteres a mais e jamais identificar a razão definitiva pela qual um fundo musical funciona para um, e não para o outro, mas algumas escolhas apresentam a qualidade tão efêmera e nítida que tentei investigar aqui. Algumas são mais inspiradoras e inspiradas. Carregam mais. Agregam mais. Você conhece o sentimento. Ali você está, emocionalmente investido num filme ou série, já conquistado pela boa direção, personagens cativantes e visuais marcantes. Então, começa. Um needle drop.
Fonte: https://www.chippu.com.br/noticias/o-urso-radiohead-needle-drops-analise-let-down-ensaio-texto-critica-cinema-series