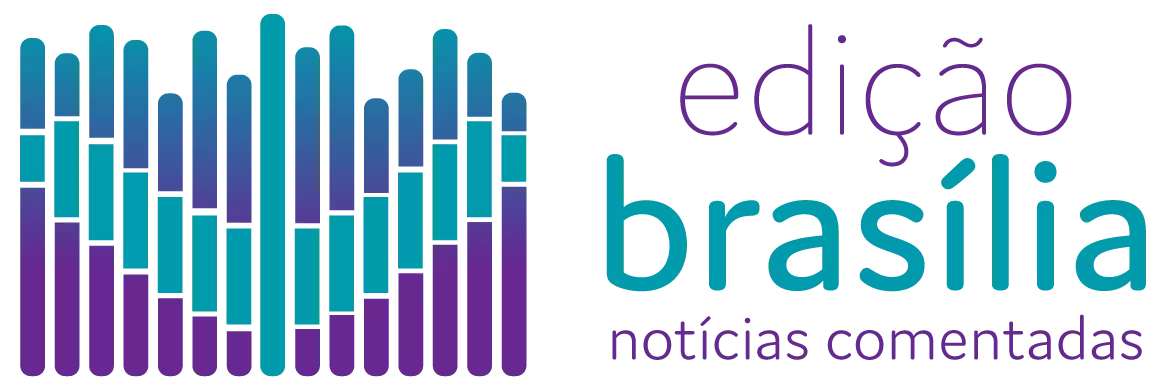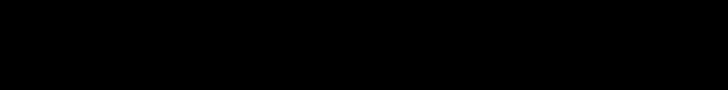O Rio de Janeiro se prepara para celebrar um marco histórico para a comunidade LGBT+ brasileira: os 30 anos da primeira Parada do Orgulho LGBT+ do país, que ocorreu na cidade em 1995. Este evento pioneiro não apenas colocou o movimento em evidência nacionalmente, mas também impulsionou uma transformação significativa na visibilidade e na luta por direitos, moldando o cenário das manifestações de orgulho que hoje reúnem milhões em todo o Brasil.
O Legado Pioneiro da Primeira Parada LGBT+ do Rio
No próximo domingo, dia 23 de novembro, a icônica Praia de Copacabana será novamente o palco para a celebração dos 30 anos da primeira Parada do Orgulho LGBTI+ do Brasil. Com o tema “30 anos fazendo história: das primeiras lutas pelo direito de existir à construção de futuros sustentáveis”, a manifestação retorna ao seu local de origem para honrar sua trajetória e projetar o futuro do movimento. Contudo, essa jornada de três décadas teve seu ponto de partida em 25 de junho de 1995, culminando a 17ª Conferência Mundial da Associação Internacional de Gays e Lésbicas (ILGA).
A passagem deste evento internacional pelo Rio de Janeiro, uma conquista pleiteada e concretizada pelo movimento LGBTI+ brasileiro, demonstrou ser um catalisador vital. Primeiramente, ela conferiu uma visibilidade sem precedentes à comunidade. Além disso, a conferência estimulou a articulação entre grupos de diversas regiões do país, fortalecendo a rede de ativismo nacional. Por conseguinte, este momento crucial forneceu um impulso decisivo para a proliferação das paradas do orgulho em várias cidades brasileiras. Renan Quinalha, professor da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e presidente do Grupo de Trabalho Memória e Verdade LGBT, explica que, embora ativistas já se organizassem em décadas anteriores — focados principalmente na emergência da epidemia de HIV/Aids — a marcha de 1995 trouxe um novo formato.
De acordo com Quinalha, não se tratava da primeira vez que o movimento LGBTI+ se manifestava publicamente. Entretanto, o evento de 1995 diferenciou-se por apresentar um formato de manifestação em aberto diálogo com a sociedade, englobando uma agenda de reivindicações muito mais abrangente. Por conseguinte, a marcha de 1995, realizada no Rio de Janeiro, tornou-se icônica ao inaugurar um processo de acúmulo de experiências e aprendizado que se disseminou pelo país nos anos seguintes. Posteriormente, esse movimento alcançaria a impressionante escala de milhões de participantes na década de 2000, notadamente com a Parada LGBT+ de São Paulo, que se estabeleceria como a maior do mundo. O professor ainda ressalta que as paradas podem ser consideradas as maiores manifestações democráticas do Brasil, visto que nenhum outro movimento consegue reunir anualmente tantas pessoas nas ruas de diversas cidades.
Os Desafios Iniciais e a Virada Estratégica
A ambição de sediar a conferência da ILGA no Brasil teve início quatro anos antes da marcha, em 1991, quando o ativista Adauto Belarmino conseguiu oficializar a candidatura do Rio de Janeiro. A confirmação veio em 1993. Naquele mesmo ano, o Movimento de Emancipação Homossexual Grupo Atobá, o recém-formado Grupo Arco-Íris e outras organizações já haviam tentado convocar uma parada na Praia de Copacabana. No entanto, essa primeira tentativa foi considerada um fracasso: menos de 30 pessoas participaram, sendo a maioria delas os próprios organizadores.
Cláudio Nascimento, que hoje preside o Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBTI+ — entidade responsável pela organização da parada desde sua primeira edição — tinha apenas 23 anos na época. Ele se recorda de ter se sentado, ao final da caminhada frustrada, em um bar da Galeria Alaska, um antigo ponto de encontro da comunidade em Copacabana, para analisar as causas do insucesso. Segundo ele, os ativistas mais experientes expressavam grande indignação, culpando a comunidade por falta de coletividade. Por outro lado, o Grupo Arco-Íris, ainda em sua fase inicial, demonstrou a ousadia de argumentar que, em vez de apontar o dedo para a comunidade, era essencial analisar os fatores que prejudicaram a participação. Primeiramente, era preciso trabalhar a autoestima da população LGBTI+. Em suma, essa reflexão representou uma mudança de paradigma para o movimento no Brasil nos anos 1990.
A experiência acumulada ao longo de mais de uma década de combate à epidemia de AIDS, combinada com o período de reabertura democrática do país, tirou o movimento da “defensiva”, como resgata Cláudio Nascimento. Esse novo cenário possibilitou a construção de uma pauta mais abrangente, focada na cidadania, no orgulho e na reivindicação de políticas públicas. Assim, quando a confirmação do Rio de Janeiro como sede da Conferência da ILGA se concretizou, o Grupo Arco-Íris prontamente identificou ali uma oportunidade singular para fortalecer essa mobilização em ascensão.
Construindo Confiança e Visibilidade
Apesar dos avanços incipientes, o contexto social da época ainda impunha barreiras significativas que afastavam muitos indivíduos LGBTI+ de uma participação mais aberta nas paradas. Havia um medo latente de serem publicamente reconhecidos e, em consequência, sofrerem agressões verbais ou físicas. Ademais, o receio de perder o emprego, de serem expulsos de casa ou até mesmo de afastar parceiros que não estavam dispostos a se assumir publicamente era uma realidade para muitos. Portanto, o Grupo Arco-Íris adotou uma estratégia diferenciada em 1994.
Em vez de realizar a parada naquele ano, o grupo decidiu promover eventos sociais e culturais, incluindo encontros semanais que chegavam a reunir entre 60 e 70 pessoas, conforme detalha Cláudio. O objetivo primordial era estimular os participantes a ganharem confiança e a sentirem-se mais seguros em sua própria pele. Um exemplo notável desses eventos foi a cerimônia pública de casamento de Cláudio Nascimento e Adauto Belarmino, realizada em 1994 na sede do Sindicato dos Funcionários de Saúde e Previdência do Estado do Rio (Sindsprev), celebrada por ex-seminaristas católicos. Nesse mesmo ano, uma tarde de convivência ao ar livre no jardim do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro surpreendeu ao reunir cerca de 600 pessoas.
À medida que a mobilização da comunidade crescia de forma orgânica, a preparação para a conferência e a tão sonhada parada na cidade permaneciam firmes no horizonte, recorda Cláudio. Ele revela que a organização recebeu um fac-símile de Nova York, contendo mais de 50 páginas e uma série de exigências rigorosas. Diante disso, a equipe do Arco-Íris tomou uma decisão audaciosa: eles optaram por “mentir” e afirmar que todas as garantias estavam asseguradas. Conforme Cláudio admite, se a verdade — de que ainda estavam buscando apoio e parcerias — tivesse sido revelada, a conferência poderia ter sido cancelada. Ele confessa que só se sentiu realmente tranquilo quanto à realização do evento após o sucesso da tarde de convivência com 600 participantes. “Ali, a gente teve certeza de que era possível, porque a gente saiu de menos de 30 para 600”, enfatiza, sublinhando a importância daquele momento para a autoestima e a crença do grupo.
A Concretização do Sonho: O Marco de 1995
O Grupo Arco-Íris, presidido por Augusto Andrade na época, foi fundado por ele e seus amigos em maio de 1993, na sala da casa onde morava com Luiz Carlos Barros. Após a confirmação da conferência, Augusto relata que o grupo enfrentou uma série de obstáculos para sua efetivação, especialmente do ponto de vista financeiro. Para garantir a realização do evento, os próprios integrantes chegaram a contrair dívidas em seus nomes. No entanto, a contribuição de inscrições de participantes estrangeiros e as doações de entidades internacionais, ativistas e artistas — como o cantor Renato Russo, que foi nomeado padrinho da conferência — revelaram-se fundamentais para superar essas dificuldades. Além disso, carros de som e outros recursos cedidos pelo Sindsprev, pelo sindicato dos bancários e pelos sindicatos dos trabalhadores das empresas telefônicas foram indispensáveis para a marcha.
Augusto Andrade explica que, naquela ocasião, a ILGA detinha o status de órgão consultivo da ONU. Este reconhecimento foi estrategicamente utilizado como um “carimbo” para abrir portas, uma vez que, para muitas pessoas, a ideia da conferência era chocante, inadmissível e inaceitável. Ele conclui que, a despeito dos desafios, o grupo alcançou uma visibilidade imensa. “Tiramos a homossexualidade das páginas policiais para as páginas de economia, de política, de cultura, de moda”, celebra Andrade, destacando a transformação na percepção pública. A conferência foi realizada entre 18 e 25 de junho de 1995, em um hotel no Posto 6, em Copacabana. No cerne das discussões, que reuniam entre 2 mil e 3 mil pessoas por dia, estavam pautas que só seriam conquistadas judicialmente cerca de 20 anos depois, como o casamento homoafetivo (legalizado pelo Supremo Tribunal Federal em 2011) e o reconhecimento da discriminação contra a população LGBTI+, tipificada pela Corte em 2019.
Com a parada programada para o encerramento do evento, a grande ambição do Grupo Arco-Íris era estabelecer um símbolo de mobilização que pudesse ser replicado nos anos subsequentes. Augusto Andrade descreve a parada como a solução encontrada para que, nos anos seguintes, a discussão se mantivesse ativa e a pauta do movimento permanecesse viva. Cláudio Nascimento, por sua vez, exalta o símbolo principal da parada do Rio: a bandeira arco-íris de 124 metros de comprimento por 10 metros de largura, já presente em 1995. O gigantismo da bandeira, de fato, era uma estratégia deliberada. “Queríamos que todo mundo pudesse ter o luxo de segurar, de tocar, e que, quando a imprensa tivesse que escolher apenas uma foto, escolheria ela. E até hoje, 30 anos depois, é o que acontece”, afirma, ressaltando o impacto visual e o poder de união do símbolo.
O Sentimento de Pertencimento e o Legado Contínuo
A ativista lésbica Rosângela Castro, que participava do Grupo Arco-Íris na época, relembra que a adesão à parada não se restringiu apenas ao público da conferência internacional e a ativistas de outros estados. Muito antes, foi o resultado de um minucioso trabalho de divulgação em bares, boates e outros pontos de encontro das comunidades de gays, lésbicas, bissexuais e travestis. Segundo Rosângela, “a gente teve muitas mãos colaborando com essa parada, então, foi uma sensação muito boa, de pertencimento, de que, a partir dali, as coisas começariam a mudar”. Ela recorda que, embora houvesse muitos olhares desfavoráveis, outros encaravam o evento como uma novidade, com a surpresa na pergunta: “Nossa, é tanta gente assim?”.
Após a marcante marcha no Rio, Rosângela e o Grupo Arco-Íris viajaram para outros estados, prestando auxílio na organização de uma série de primeiras paradas, incluindo a histórica edição de São Paulo em 1997. A ativista permaneceu no Arco-Íris até o início dos anos 2000, momento em que fundou o Grupo de Mulheres Felipa de Sousa, em 2001, inicialmente dedicado a mulheres lésbicas e bissexuais e, posteriormente, com foco nas mulheres negras dessa população. Rosângela compartilha uma reflexão pessoal sobre sua trajetória: “Há pouco tempo que comecei a ver a minha importância em tudo isso, de tanto as pessoas me falarem. Para mim, era uma coisa que eu tinha que fazer, era como estar viva. O ativismo é o que me move até hoje. Ano que vem, eu vou fazer 70 anos, e essa é minha forma de viver. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria”. Sua declaração ressalta a profundidade de seu compromisso com a causa.
Para Jorge Caê Rodrigues, que também desempenhou um papel crucial na organização da parada, a história de sua vida e a do movimento LGBTI+ no Brasil se entrelaçam profundamente. Jorge conheceu seu marido, John MacCarthy, na militância nos anos 1980, e os dois compartilharam uma jornada de 39 anos. Ao longo dessa trajetória, a marcha pioneira no Rio de Janeiro representou um marco em que ambos trabalharam lado a lado. Embora não a considere um início absoluto, Jorge a vê como um ponto de frutificação: “Em 1980, foi plantada a semente de uma árvore que cresceu e, ali, começou a dar frutos. Foi um processo longo, mas, em 1995, já era uma árvore forte, com raízes fincadas”, lembra ele. Para Jorge, foi um momento de “glória inacreditável, de muita emoção”, descrevendo a parada como uma verdadeira catarse.
Mesmo após deixar a organização da parada no ano 2000, o casal nunca deixou de participar da manifestação. Em 2019, quando John faleceu, um dos trios elétricos desfilou com uma foto em sua homenagem. No entanto, Jorge não se sentiu em condições de retornar às ruas durante o luto. Anos depois, em um novo relacionamento, Jorge Caê descobriu que seu namorado, um homem mais jovem nascido no interior do Rio de Janeiro, nunca havia participado de uma parada LGBTI+. Após compartilhar sua história com ele, os dois decidiram ir juntos em 2023. “Foi tocante estar com uma pessoa que nunca tinha ido, um homossexual do interior, e ver a alegria dele em ver que realmente não está sozinho, que não é o único, que é um pensamento que passa pela cabeça de muitos homossexuais. Foi muito comovente”, conta Jorge, expressando sua esperança de que a parada “continue forever and ever”. Essa experiência pessoal reforça o poder duradouro do evento em proporcionar um senso de comunidade e pertencimento, especialmente para aqueles que ainda se sentem isolados.